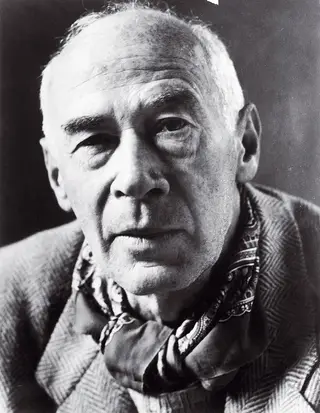+ Leitur@s
Companhia das Letras, 2019
O
último romance de João Tordo não é “uma história de amor e perda narrada por quatro vozes femininas, ambientada em três cidades diferentes ao longo de um século”, conforme li, assim transcrito ou declinado em variáveis similares. Também é. Mas não apenas. Como primeira experiência, o romance corre o risco de ser confuso na forma e pretensioso no conteúdo; mas, na realidade, “A Mulher que Correu Atrás do Vento” é uma indeclinável experiência de leitura, tanto mais deliciosa quando melhor se conheça e se tenha aprendido a fruir do universo do escritor.
Começa por não ser fácil “endireitar” a linha da narrativa, uma vez que o arco espaciotemporal transcorre entre 1891, na Baviera (onde a professora de piano Lisbeth Lorentz se envolve sentimentalmente com Jost, um aluno autista de 13 anos), e outubro de 2017, algures em Lisboa, num café na Rua do Poço dos Negros, onde Beatriz, estudante e tradutora de Joyce, reencontra Jaime Toledo. Ter-se-ão passado décadas, pelas minhas contas, sobre o dia em que o autor de “A História do Silêncio”, romance sobre Lisbeth Lorentz, abandona Beatriz, concretamente 26 anos em 1992, a que acrescem quase os mesmos até 2017. A diferença é que neste encontro, voltando a chamá-la Gaivota, ele acede por fim a responder à pergunta que Beatriz lhe colocou antes da rutura, guardada durante todos aqueles anos e que se revela crucial para a narradora e para a narrativa: o que aconteceu a Jost. Intuímos que a resposta constitui a pedra basilar, mas o instante em que Jaime Toledo se dispõe a revelar o que desde sempre omitira coincide com as derradeiras duas linhas do livro de João Tordo.
Algures entre tempos e modos, delimitando contextos, Beatriz conhece Lia, uma adolescente destruída por circunstâncias de vida devastadoras. O inimaginável toma então as rédeas do romance e remete para o simbólico e para o translato, interagindo entre quem conta e quem é contado e assim validando a asserção de que uma personagem era o “anjo” da outra, as duas faces da privação e do desamparo.
Entretanto, desfiam os anos num vaivém entre Lisboa e Londres, vertidos para o próximo presente no relato que um dos dois anjos (Lia, ou Lia na versão de Beatriz?) faz a uma terapeuta, ajuda inestimável para o enquadramento da história, “assombrosas criaturas” que partilham muito mais do que suscita o relato linear. Todo o texto está, aliás, polvilhado de múltiplos registos de alguma maneira extemporâneos na sua relação com ele. Refiro-me principalmente a duas ordens de apontamento. A primeira, muito interessante, tem a ver com a capacidade que Tordo tem de plasmar anotações que se encadeiam, de forma muito sensitiva, trazendo ao leitor toques de pele, aromas, sons, olhares e sabores com uma mestria próxima da perfeição; a segunda, menos aliciante, tem por eixo um emaranhado de referências díspares, por vezes ao ponto de “atrapalhar” o fluxo da narrativa ao lhe subtrair a consistência, como quando mais de uma dezena de compositores irrompem em catadupa e desfraldam cultura ao lado de outros tantos escritores, vinculando mais o desígnio do escritor do que o sentido da diagonal narrativa.
A polifonia que corresponde a um lugar perfeito é o excerto perfeito, algures contido na tradução do último conto de “Dubliners”, que Beatriz segura como um amuleto e que denomina o capítulo medial do livro: “os Mortos”, entendidos numa sequência de emoções remissíveis para um mesmo sentimento de ausência, quer este se decline em abandono, suicídio, não-existência, negação, perda ou fuga. Este quarto capítulo permite aceder aos dois seguintes que, engastados, articulam todos os outros: “O Lugar Perfeito” que constitui o núcleo central e recorrente ao longo de toda a narrativa (quadro, paisagem, estado de alma, cenário, melodia) e “Ensaio Geral”, disruptivo no formato, fraturante no teor. Os dois aglutinam a trama, subvertem-na e alteram a trajetória depois de deixar o leitor atónito e a braços com a resolução do puzzle em que se transformou a história. Porque, no limite, o escritor desarticula a temática, e toda a história, a começar pelo título, remete, não para nenhuma das quatro mulheres, das três cidades, do século que permeia a ação, mas para o ato primordial de escrever: “(...) esta compulsão inútil de que padecem os escritores (...) os que escrevem porque, se não o fizerem, continuarão a correr infinitamente atrás do vento?” João Tordo, no seu melhor.
Luísa MELLID-FRANCO
E-Expresso Revista, 20 de julho de 2019